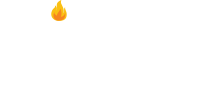Opinião: Petrobras jamais venderia suas refinarias se tivesse controle privado
Em artigo, o jornalista Luis Nassif aponta que falar em empresa “mais enxuta” para o setor petrolífero é lógica de padeiro para convencer ministros do Supremo, sem nenhum conhecimento maior de administração e negócios

O plano da Petrobras é privatizar oito refinarias
Por Luis Nassif, do Jornal GGN
Vamos supor que a Petrobras fosse uma empresa privada. Ou seja, seus controladores não tivessem nenhuma responsabilidade inerente a empresas estratégicas nacionais: visassem apenas o crescimento e a rentabilidade da empresa.
De repente, eles se veriam ante o seguinte dilema:
- A empresa tem alto grau de endividamento.
- A empresa necessita de investimentos para garantir seu crescimento futuro.
Há vários caminhos a serem percorridos. O mais usual deles – para as empresas responsáveis – é a redução dos dividendos. É o caso da Mulberry, fabricante de bolsas de luxo. Essa responsabilidade existe nas empresas com controle de capital definido, na qual os controladores investem na perpetuação das empresas.
Sem o controle definido, os acionistas veem a empresa apenas como geradora de dividendos. Trata-se do velho esquema de “sugar a mama da vaca”, sem pensar no amanhã. Foi o que ocorreu com a Embraer, ante os olhares indiferentes das instituições e das próprias Forças Armadas. A única lógica da venda para a Boeing era a da valorização dos papéis dos acionistas, que se tornariam sócios da compradora. A tendência das empresas sem controle definido é se tornarem vulneráveis aos chamados abutres do mercado financeiro.
É o que está ocorrendo com a Petrobras. Ela está conseguindo chegar a um nível de irresponsabilidade só encontrada em empresas do setor privado sem comando.
No ano passado, anunciou sua meta de se transformar em uma das grandes pagadoras de dividendos do país. Definiu uma política segundo a qual, se a dívida bruta estiver abaixo de US$ 60 bilhões – incluindo compromissos com arrendamentos mercantis –, a empresa poderá distribuir 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. Se estiver abaixo, distribuirá os mínimos obrigatórios previstos em lei e nos estatutos sociais.
Segundo analistas de mercado, ouvidos pela mídia na época, a nova política garantirá a continuidade do processo de desalavancagem, deixando a Petrobras “mais enxuta e focada em exploração e produção em águas profundas”. Pelos cálculos de mercado, a Petrobras pagaria um yild (reação entre preços da ação e o valor do dividendo) entre 13% e 15% – isto em um mundo em que as taxas de juros internacionais estão próximas de zero. Com a melhoria do mercado, poderia subir a 17%. Ora, isso é tirar sangue da veia da empresa. Como a mídia, tão ciosa em criticar o nível de alavancagem e a necessidade de investimentos da companhia, se calou antes esse descalabro de um yild superior a 13%?
Essa história de “empresa mais enxuta” aplica-se a empresas com diversidade de frentes de negócio não relacionados ao negócio principal. Falar em empresa “mais enxuta” para o setor petrolífero é lógica de padeiro, própria para convencer Ministros do Supremo, sem nenhum conhecimento maior de administração e negócios.
A cadeia de valor do petróleo contempla três fases:
- Upstream: exploração, desenvolvimento e produção, descomissionamento;
- Midstream: transporte, refino, armazenamento;
- Downstream: transporte, marketing.
A fase de maior risco é a primeira. O investimento inicial é elevado, com bom nível de incertezas durante a exploração e a avaliação. Os dados internacionais mostram a necessidade de investimentos de US$ 1 bilhão para petróleo offshore de médio porte. Há necessidade de levantamento geológicos, pesquisas sísmicas, poços de exploração. Depois de identificado o petróleo, há os investimentos de exploração, inclusive analisando riscos ambientais. E todos esses gastos dependem do comportamento das cotações internacionais do petróleo, submetidas a pressões geopolíticas de toda ordem. Bastou a Arábia Saudita anunciar o aumento da produção, em represália à Rússia, para as cotações despencarem, afetando exclusivamente as empresas focadas no upstream.
Há a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a cadeia de valor. O faturamento começa quando chega ao consumidor final – o dono de automóveis, a petroquímica, empresas industriais. Estima-se que o upstream fique com um quinto da receita final. O restante fica com o midstream e o upstream, atividades lucrativas e sem riscos de mercado – a não ser aqueles que impactam diretamente o consumo.
O midstream e o downstream foram pouco afetados pela crise da Arábia Saudita porque trabalham com margens em cima dos preços pagos na compra de petróleo. Para o upstream foi um desastre, porque sua rentabilidade depende expressamente da diferença entre as cotações de petróleo e o custo de exploração.
Justamente por isso, todas as petrolíferas nacionais se valem de sua capacidade de extrair petróleo para explorar todos os segmentos da indústria. Quando a exploração enfrenta dificuldades, escora-se na distribuição, no refino, no transporte.
Os gestores da Petrobras estão fazendo exatamente o contrário, se desfazendo de seu hedge, os setores mais lucrativos e de menor risco, algo que jamais seria feito por uma empresa privada séria.
Ora, se refino, distribuição, produção de gás fazem parte da lógica financeira da companhia, qual a razão do Supremo Tribunal Federal ter tratado como se fosse um mero rearranjo de ativos?
Uma corte responsável abriria audiências públicas, traria especialistas internacionais para discutir a cadeia de valor do setor, antes de sancionar qualquer drible da vaca na Constituição – que obriga que toda venda de estatais passe pelo Congresso.
Daqui a alguns anos, quando ficarem claros os efeitos dessa flexibilização, a biografia de cada um dos ministros que votou em favor da venda das refinarias será irremediavelmente maculada. A avaliação mais generosa é que foram mal informados.